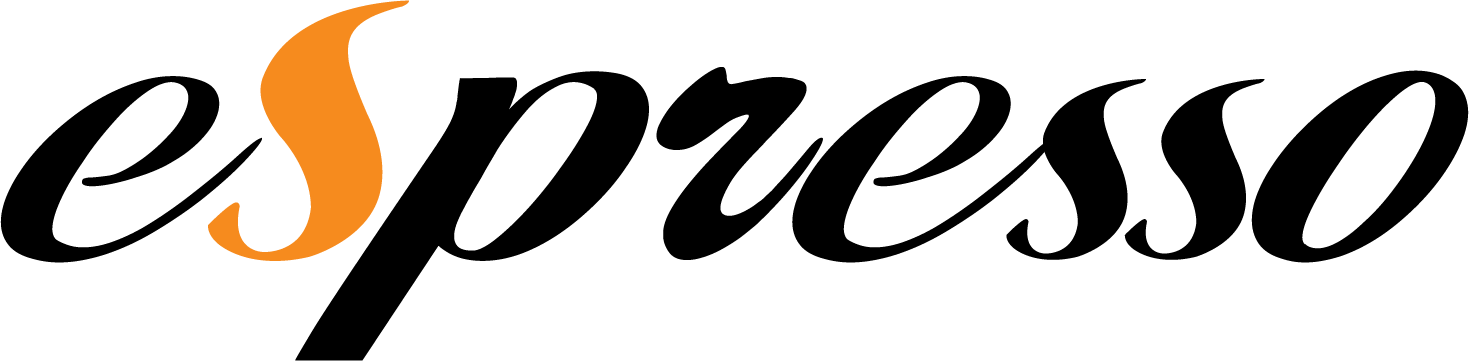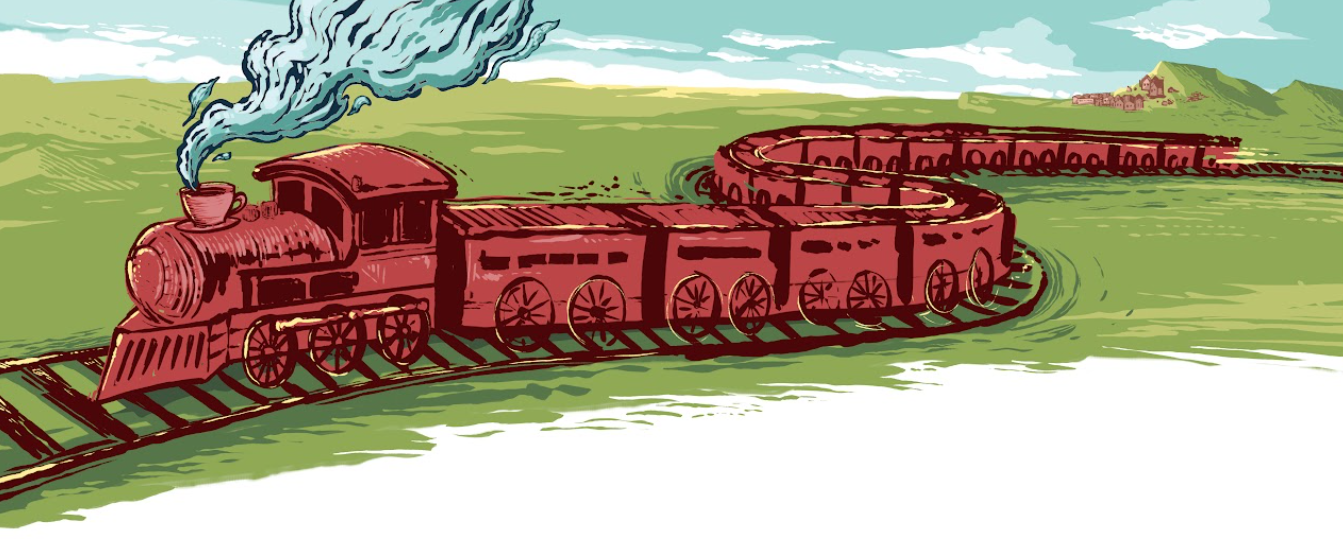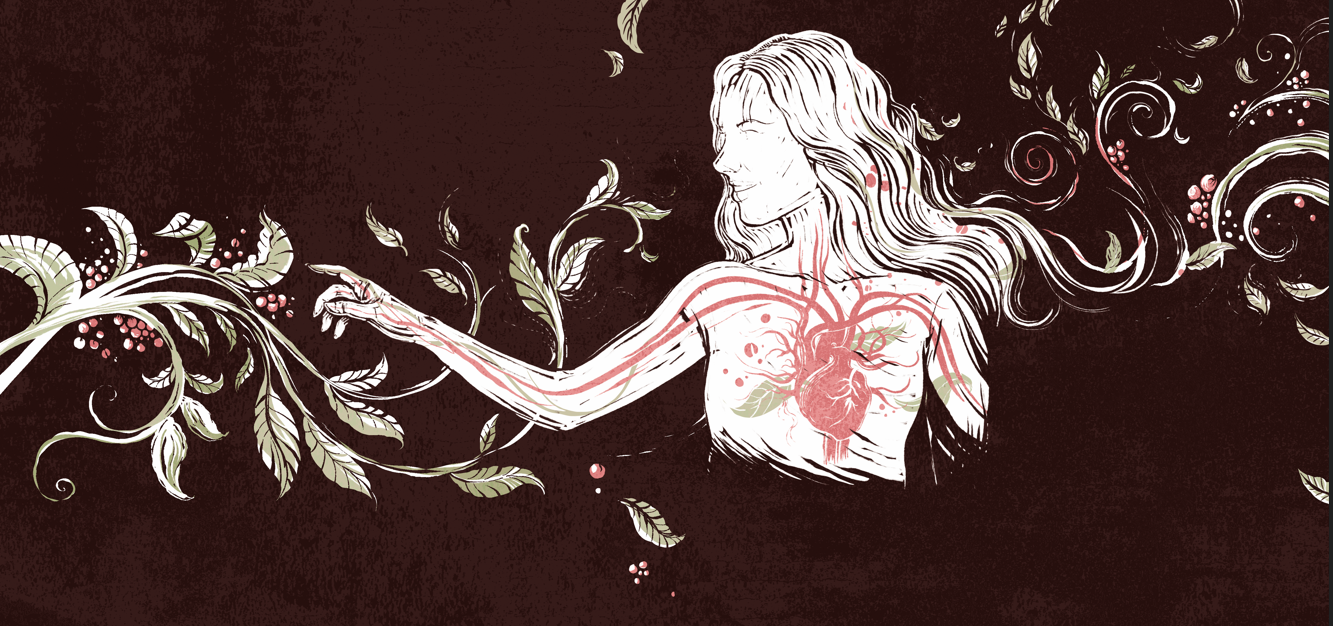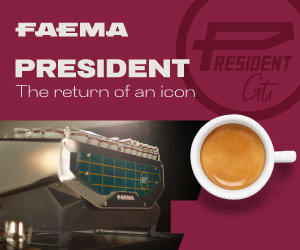•
A onda dos primeiros espressos
Para os italianos, o espresso é o café por excelência. Extraído em segundos por água quente altamente pressurizada, a bebida tornou-se parte da rotina matinal de muitos outros países. Mas como ela surgiu? Pela complexidade da extração de um espresso, a tecnologia envolvida na produção das máquinas é um elemento central dessa história.
A história do espresso tem pouco mais de cem anos. No século XIX, o café era um negócio lucrativo nas cafeterias da Europa. E, no final daquele século, seu consumo fora de casa aumentou significativamente. Afinal de contas, o tempo acelerou com a introdução de equipamentos e máquinas movidos a vapor. Num mundo veloz, portanto, coar café pelos métodos tradicionais (em filtros de cerâmica ou metal), que levavam até cinco minutos, parecia um processo demorado demais.
Os inventores italianos perceberam, então, uma oportunidade: reduzir o tempo de preparo da bebida. Os parâmetros que mobilizaram os criadores das primeiras máquinas de espresso envolviam eficiência, economia e, particularmente, a utilização do vapor e a ideia do serviço individualizado da bebida — a demanda xícara a xícara, elemento central na cultura do espresso.
O primeiro equipamento que perseguiu essa demanda foi desenvolvido pelo francês Edouard Loysel de Santais. A imensa máquina empregava pressão hidrostática para fazer a água circular, e impressionou os visitantes em 1855, na Exposição de Paris, ao produzir mil xícaras de café em uma hora. Mas para alguns estudiosos o primeiro a incorporar um sistema pressurizado foi Angelo Moriondo. O inventor de Turim registrou a patente de sua máquina a vapor em 1884. O Método A. Moriondo incluía uma grande caldeira, aquecida a 1,5 bar de pressão. Porém, o equipamento nunca foi comercializado. Foram os milaneses Luigi Bezzera, um fabricante de licores, e o engenheiro Desiderio Pavoni que acabaram personagens dessa história.
Em 1901, Bezzera criou a Tipo Gigante. Operada a vapor, ela introduziu suportes para filtros (que evoluíram para os grupos e porta-filtros acoplados atuais) capazes de extrair cafés diretamente na xícara. Porém, a tecnologia empregada não permitia o controle nem da pressão, nem da temperatura da água — parâmetros essenciais para a qualidade da bebida, e que desafiaram os inventores seguintes.
Desiderio Pavoni lançou sua Ideale quatro anos depois. A Ideale era um desenvolvimento do equipamento de Bezzera que, por não ter dinheiro, transferiu a Pavoni sua patente. Dizem que Pavoni conseguiu diminuir a temperatura da água na caldeira de 121°C para cerca de 90°C, próxima à temperatura das máquinas modernas. A Ideale estreou em 1906, e foi a primeira máquina de espresso produzida em escala comercial.
Outras inovações surgiram, como a substituição do gás pela eletricidade, o porte menor dos equipamentos e o uso de componentes como o scambiattore, que permitiu a separação da água usada para o vapor daquela utilizada na extração do café.
Após a Segunda Guerra Mundial, american bars surgiram na Itália e as máquinas de espresso encontraram um lugar perfeito para se instalarem. O historiador Jonathan Morris, autor de Coffee: a global history, explica que os bares americanos tornaram-se locais de sociabilidade e de negócios para a burguesia italiana urbana, e um contraponto aos sofisticados e tradicionais cafés locais. Diferentemente do serviço à mesa destes clássicos estabelecimentos, o café de um american bar era entregue por um atendente no próprio balcão, onde os clientes conversavam em pé.
Nas primeiras décadas do século XX, as novas máquinas se espalharam e viraram um símbolo da modernidade italiana. O termo espresso, recém-incluído no vocabulário local, fazia referência tanto à velocidade da locomotiva, outro emblema da modernidade futurista, quanto ao nome da bebida — ambos “movidos à vapor”.
O alto preço das máquinas, porém, limitou o consumo da bebida à elite do país. Em 1927, os Estados Unidos importou sua primeira máquina de espresso, instalada no Regio’s Bar, em Nova York. Além da La Pavoni, fundada em 1905 em Milão, outros fabricantes se estabeleceram na Itália, como Victoria Arduino (1905, Turim), Carimali (1919, Bergamo), San Marco (1920, Udine), La Marzocco (1927, Florença) e La Rancilio (1929, Milão).
Mas que bebida era esse tal de espresso? No início dos 1900, bem diferente do que conhecemos. Faltava a crema, aquela camada espessa, cor de caramelo, típica do espresso. Porém, para obtê-la, é preciso uma pressão muito maior (9 bar) do que os equipamentos ofereciam até então.
Em 1935, Francesco Illy, fundador da illycaffè, de Trieste, patenteou a Illetta. Sua inovação foi utilizar, em lugar de vapor, a pressão do ar, a partir de um compressor externo e regulável, para forçar a água através do café moído. Andrea Illy, em seu livro O Sonho do café, destaca essa contribuição na mensuração precisa de temperatura e de pressão. A Illetta apresentava, ainda, dosagem automática de água.
Achille Gaggia, proprietário de um bar milanês e entusiasta da bebida, introduziu outra tecnologia: a bomba de pressão elétrica. Concebida em 1948, a Gaggia Crema Caffe forçava a água quente sobre o café a uma pressão elevada e constante, criando uma crema densa no espresso. Comprada por Ernesto Valente, a invenção de Gaggia transformou-se na Faema E61, lançada em 1961. A máquina tinha outra novidade, como uma bomba motorizada e o porte menor, tornando-a mais barata. Daí por diante, esses equipamentos tornaram-se mais comuns, e sempre oferecendo alguma inovação — e, para nós, um espresso cada vez melhor.
Cristiana Couto é jornalista, historiadora e doutora em história da ciência. É autora, entre outros, de Arte de Cozinha – Alimentação e dietética em Portugal e no Brasil (sécs. XVII-XIX). Coordena o conteúdo da Espresso.