O café é a ferramenta para eu contar minha história
Barista e cafeicultora indígena, Celesty Suruí transforma o café em instrumento de memória, educação e valorização da cultura indígena na Amazônia
Por Cristiana Couto
Celesty Suruí vem ao meu encontro com sorriso largo. Estamos no Instituto Moreira Salles, em São Paulo, onde acabara de estrear a exposição “Paiter Suruí, Gente de Verdade – Um projeto do Coletivo Lakapoy”. É meu segundo encontro com a jovem de 22 anos e da etnia Paiter Suruí, que vem chamando atenção por produzir café especial na região amazônica e ser, também, barista. A primeira barista indígena, como é conhecida.
Com postura firme, sustentada por um misto de orgulho e emoção, Celesty abre a porta do espaço do IMS que leva ao seu universo, revelado em 800 fotografias forrando as paredes. As imagens foram registradas pelos Paiter Suruí depois do contato com os brancos, em 1969, quando, no atual território Terra Indígena Sete de Setembro, na fronteira de Rondônia e Mato Grosso, foram deixadas as primeiras câmeras. Atravessamos a porta e o tempo.
“O povo Paiter Suruí é conhecido como gente de verdade”, explica Celesty, dando início ao meu tour particular. “Os Paiter tinham uma regra antes do contato: você não podia matar o próximo, você não pode brigar com uma pessoa, você tem que respeitar o seu próximo. De acordo com essas regras, eles se consideravam como gente de verdade”, continua ela, referindo-se também à espiritualidade dos Paiter. “Era só Paiter antes do contato. Depois, a Funai não soube se a etnia tinha um nome específico, e aí, com a demarcação do território, eles colocaram Suruí. Em respeito a eles, a gente manteve o nome Paiter Suruí”, completa Celesty, referindo-se ao período entre a demarcação do território e o retorno de seu povo a ele, no início dos anos 1980.
Celesty interrompe o relato para apresentar parentes que vieram à exposição. “Tenho duas mães. Meu pai é casado com duas mulheres”, esclarece, ao apresentá-las. conheço também sua prima, Txai Suruí, “ativista famosa, ‘brabíssima’”, introduz a barista.
Por quase uma hora, Celesty escolhe fotos que revelam o olhar indígena sobre sua própria história. “A gente vai ver fotos bem recentes, com esta de jovens dançando na igreja, e outras bem mais antigas, que nem eu conheço”, explica ela, apontando uma mulher fazendo tipoia para carregar bebês. “Este é o ex-pajé”, aponta para outro retrato. “Geralmente, os pajés são escolhidos pelos espíritos. Só que o pajé não pode ter uma família, mas ele queria uma e parou.”
Em outras imagens, identifica as primeiras lideranças a caminho de Brasília, que conseguiram demarcar o território. E a festa mapimaí, que representa a criação do mundo e que persiste até hoje entre seu povo. Os pajés que, todas as manhãs, tocam flautas, chamando os espíritos para fortalecer a aldeia. Os primeiros jovens a estudar, o primeiro casamento religioso, a primeira igreja do território.
E mostra uma foto sua ainda criança, a dos avós de quem sente saudades, a do irmão. “Ele é o fundador do coletivo Lakapoy”, diz ela de um dos 18 irmãos, o fotógrafo Ubiratan Suruí, que saiu cedo de casa para estudar na cidade e, ao lado de Txai Suruí e Gabriel Ushida, fundou o coletivo organizador da exposição no Moreira Salles. “A gente quer levar esse acervo para a aldeia, para contar para os jovens que ficaram. As crianças têm que saber a história.”
Ela pára diante do primeiro retrato de seu povo: “A gente ainda era nu. Depois do contato, perdemos anciãos, pajés, lideranças, por causa de epidemias [como as de tuberculose e sarampo] e de luta. As pessoas que não morriam por epidemia, morriam por balas”. Paira o silêncio. Entre as décadas de 1940 e 1950, havia mais de cem mil indígenas em Rondônia. Em 1985, restavam apenas 2,5 mil, “vítimas da abertura da fronteira agrícola e das políticas de incentivo à exploração de recursos naturais que visavam principalmente a ocupação da região norte do Brasil”, informa um dos textos de Rondônia em Imagens, livro do fotógrafo goiano Kim-Ir-Sen Pires Leal publicado em 2024. Segundo os Paiter, após o contato, de 5 mil de sua etnia restaram 250 pessoas.
Os Paiter Suruí dividem-se em quatro clãs: namir, nome de um marimbondo amarelo, makor (“o bambu”), gameb (“um grande maribundo preto”) e kaban (“uma frutinha amarela”) – este último, originário da mistura dos Paiter com os Cinta Larga, também falantes de tupi-mondé. Descubro, então, que na cultura Paiter, os casamentos só podem acontecer entre clãs diferentes.
Ela, porém, não seguiu o destino que lhe foi dado. Nascida na aldeia Lapetanha, Celesty percebeu, com a gigante do café 3corações e a jornalista Kelly Stein, idealizadora da empresa Coffea Trips, a oportunidade de traçar seu caminho como barista e produtora de café. Os detalhes dessa trajetória ela relata na descontraída conversa que tivemos depois da exposição, cujos melhores momentos selecionamos a seguir.
Plantar significa vida
A relação da minha família com o café começou antes de eu nascer. Meu pai foi um dos primeiros produtores dentro do território indígena. Ele e meu avô estavam entre os que não quiseram cortar a plantação. Tudo começou em 1969, no primeiro contato com pessoas não indígenas, que chamamos de yara-ey.
Depois da demarcação do território, em 1983, a Funai retirou os colonizadores para que os indígenas retornassem às áreas roubadas. Voltamos e encontramos plantações deixadas por eles — de soja, milho e café.
Meu pai era novo na época, e meu avô era um dos habitantes da aldeia Pawentigah, a primeira fundada depois do contato. Uma parte adotou o café, porque, como sempre digo, plantar é algo importante para nós, significa vida. Outra parte preferiu derrubar tudo, e eu entendo: como conviver com algo que causou tanta destruição e matou pessoas da família? Os que decidiram manter o café foram muito corajosos. Nós o acolhemos como nosso e, até hoje, trabalhamos com ele.”
A fruta do milagre
“Alguns anos depois, meu povo começou a trabalhar com reflorestamento — e fazemos isso até hoje. Demarcamos apenas metade do território invadido, e essa área tinha muita floresta derrubada e pastagens. Adotamos o café como uma forma de reflorestar.
Com o tempo, vimos que ele dava fruto, e isso tornava o café ainda mais especial. Na época da maturação, os grãos ficavam vermelhos. Então, alguns comentavam: ‘Não é coisa ruim, é coisa boa. É daqui da floresta’. O cacique chamava a comunidade para experimentar. Diziam que era a fruta sarikab, nativa da Amazônia e que hoje é conhecida como fruta do milagre.
A gente acreditou que fosse uma fruta da nossa cultura, da floresta. Anos depois, um produtor próximo ao território viu que estávamos comendo a fruta e jogando o caroço fora.”
Contato com cafeicultor
“Esse produtor ainda tinha medo, porque as pessoas eram muito agressivas naquela época. Ninguém falava português, e os não indígenas também não falavam nossa língua.
Mas os Paiter e esse cafeicultor criaram amizade, e ele começou a ensinar nosso povo: ‘Não é assim que se trabalha. Existe um processo para transformar essa fruta em bebida’. Ele foi ensinando os homens a trabalhar com café, com a leitura do território. Passaram a cuidar daquela roça — era uma área muito grande. Dividiram o trabalho por clãs: ‘Este clã cuida desta parte; aquele, de outra.’ E assim por diante. Depois de alguns anos, viram que o café que vendiam ajudava na renda das famílias.
Mas, mesmo depois da demarcação do território, havia invasões — gente entrando para pescar, tirar madeira e outras coisas. A primeira aldeia acabou se dividindo em várias outras para proteger a área. Então, todos queriam trabalhar com café. Pegavam as sementes e plantavam, mas era conilon, não o robusta amazônico. Com o tempo, passamos a trabalhar também com cacau nativo e castanha.”
Trabalho sustentável
“Fizemos um projeto com o apoio da Aquaverde, uma empresa da Suíça, que ajudou os Paiter a reflorestar essas áreas. Esse trabalho começou em 2003, quando eu tinha dois anos. Então, cresci no território vendo meu pai, Agamenon Gamasakaka Suruí, trabalhando com café e reflorestando as áreas que foram degradadas. Até hoje a gente trabalha de forma sustentável, porque usamos o café e o cacau para reflorestar. Hoje, já temos mais de 500 mil plantas no território, que virou uma floresta, com várias espécies frutíferas também.”
Transformação pela qualidade
“Em 2018, três famílias indígenas foram conhecer a SIC [Semana Internacional do Café], e viram que era uma coisa imensa. Voltaram para a aldeia e falaram: ‘a gente tem que fazer alguma coisa, porque é algo com que trabalhamos há muitos e muitos anos’. E tudo começou com a empresa 3corações, que veio nos visitar em 2019, e o projeto Tribos. Com eles, a gente entendeu o que era um café especial, o processo de seleção dos grãos, a fermentação. O projeto começou com três famílias. A empresa enviou profissionais para capacitar os indígenas e isso se expandiu pelo território. Hoje, o projeto trabalha com sete etnias, com mais de 176 agricultores que trabalham café especial de forma agroflorestal, sustentável, e nossos cafés já são premiados. São mais de 38 aldeias aqui no território, e a maioria trabalha com café – outros, com a produção de cacau e castanha. O projeto não só trouxe para nós um jeito diferente de olhar o café, mas trouxe a transformação do território, de vidas.
Antes do projeto, a gente olhava o café como algo só para ser vendido, não queria qualidade, só quantidade. Hoje a gente quer produzir qualidade, da maneira certa, para não degradar o território porque vai prejudicar não só a comunidade, mas todos. Porque a terra não é só nossa, mas de todos.
Em 2023, ganhei o terceiro lugar na Florada Premiada [uma das iniciativas do Projeto Florada da 3corações, que valoriza microlotes cultivados por mulheres], com um café do quinto ano de produção. O projeto mudou a minha história.”
A vontade apareceu
“Depois de ensinar outros produtores de Rondônia, a Kelly, em parceria com a Kanindé [associação de defesa etnoambiental], convidou quatro meninas da aldeia para fazer um curso de café. Eu acompanhei o pessoal, e vi que pessoas da minha cidade não conheciam nossa relação com o café. Imagine pessoas de outro estado, então! Aí, pensei, alguma coisa tem que acontecer, senão a gente vai ficar sempre calado.”
Quero ser barista
“Foi então que pedi ajuda à Kelly para trabalhar com café – é bem estranho pedir ajuda para quem a gente não conhece. Ela falou: ‘Vou levar você para São Paulo, para fazer o curso completo’. Aí eu disse para minha mãe: ‘Quero fazer um curso de barista’. Ela nem sabia o que era, e respondeu: ‘Não, você não pode. O mundo é perigoso, há muita gente ruim. Você ainda é menina’. Eu tinha 18 anos. Na minha cultura, é muito difícil uma mulher sair da aldeia. Para o meu povo, ela deve cuidar da família e educar os filhos. Minha família é muito tradicional — meu pai e minha mãe tinham medo de que algo acontecesse comigo e não queriam que eu saísse.
Falei com meus irmãos, mas eles também acharam muito perigoso sair da aldeia. Então, falei com meu irmão fotógrafo. Ele me apoiou e disse para minha mãe: ‘O mundo não é mais como antes, todos precisam trabalhar para sobreviver’. Uma das minhas cunhadas me deu apoio também. Então, disse para minha mãe que iria, e fui. Estava com medo, porque era a primeira vez que saía da aldeia.
Eu não queria ser a primeira barista, só queria preparar café e ensinar as lideranças, porque já estávamos trabalhando com turismo. Queria trazer mais visibilidade para a aldeia através do café, não queria sair de lá. Mas o destino estava me preparando para outras coisas também.”
A primeira barista indígena
“Digo que a Kelly foi meu ‘anjo da guarda’. Ela tem amigos em Campinas que têm uma cafeteria, a Abigail, e eles me receberam para ensinar todo o processo de preparo e os métodos do café. Essa cafeteria sempre vai fazer parte da minha história, porque fui muito bem recebida por eles. Fiquei um mês morando sozinha em Campinas. Voltei para a aldeia com outra visão, mas tinha medo de não ser bem recebida, porque comecei a dar entrevistas para jornalistas. Eles me disseram: ‘Celesty, você é a primeira indígena barista que conhecemos’, e me chamaram de a primeira indígena barista. Naquele ano, meus irmãos queriam parar de trabalhar com café. Eu falei, agora que comecei a entrar no ramo do café, não vou deixar a gente parar. E comecei a sonhar muito.”
Pensando grande
“Sonhei em ter uma cafeteria na aldeia. Meus irmãos me apoiaram e começamos a construir a cafeteria no fim de 2023. Como a gente está fazendo com o nosso próprio dinheiro, a construção está um pouquinho devagar, mas acho que vai ficar pronta no começo de 2026. Vai ter uma salinha pra fazer cafés, outra sala pra vender os cafés e um espaço com fotos contando a história do café, da família e do povo.
No começo de 2024, eu também lancei uma marca de café da família, o Café Sarikab, a fruta nativa que comentei. Colocamos esse nome porque uso o café como ferramenta para contar a minha história. A gente começou a trabalhar o nome da marca pensando quais palavras iam ficar certas, quais grafismos a gente ia colocar. Eu e meus irmãos, reunidos com meu pai e minha mãe, para que eles orientassem a gente, porque o ancião tem que orientar os mais jovens para tudo sair mais certo. Eu ganhei uns amigos de Minas, e eles fizeram o desenho do logo, das embalagens, e não precisei pagar.”
O café Sarikab
“A gente faz todo o processo na aldeia e vende por encomenda. Trabalhamos com o tradicional e o especial. Se for um café especial natural, a gente colhe só os frutos maduros, lava esses frutos e depois coloca no terreiro suspenso ou nas lonas para secar. Os fermentados, a gente também colhe os maduros, depois separa – tira o grão verde e o amarelo – e só deixa os cerejas. Depois lavamos e colocamos nas bombonas, onde ele vai passar de 10 até, no máximo, 15 dias por um processo [fermentativo] anaeróbico. Chamamos de café especial fermentado. Os que mais saem são os cafés especiais, o tradicional a gente vende na comunidade.
Temos vários eventos em Rondônia, onde os produtores divulgam suas marcas. A gente também participa, prepara os cafés e apresenta como eles são produzidos dentro do território, divulgando nossa marca.”
Na SIC, o Brasil me conheceu
“Em 2022, minha primeira professora, Helga Andrade, que trabalhava para o Sebrae, teve a ideia de eu entrar na equipe que ia para a SIC para preparar os cafés de Rondônia. Eu era a única indígena e falei que não estava preparada ainda. Ela falou: ‘ou é agora ou é nunca. Você sempre tem a primeira vez’. Aí eu fui, e foi a primeira vez que preparei cafés para as pessoas – era muita gente, muitos jornalistas. Fiquei muito nervosa, mas foi bem emocionante. Daí, o Brasil inteiro me conheceu.
Depois, a empresa 3corações entrou em contato comigo e fez uma proposta: ‘você quer preparar os cafés da sua região, do seu território?’ Respondi que iria pensar, porque representar um povo é uma responsabilidade muito grande. Se você errar uma palavra, pode ser julgada. Se falar uma coisa certa, pode se sentir abraçada. É uma coisa bem arriscada. Depois de alguns meses, aceitei a proposta e hoje sou a responsável pelo projeto Tribos.”
Servindo o presidente
“Quando eu estava em processo de fazer a minha marca, o pessoal da Embrapa convidou os produtores para apresentar os cafés robustas no evento [exposição feita em Brasília, em abril de 2024, para comemorar o aniversário da Embrapa]. Então, eu fui como barista, e, como tinha que representar meu povo, levei o café do Projeto Tribos, e apresentei o projeto também. Não sabia que ia apresentar o café para o presidente, mas os meus colegas sabiam. Acho que foi uma surpresa para mim. Quando chegou o dia, o pessoal me falou: ‘ah, você vai preparar o café para o presidente’. Aí fiquei nervosa, mas preparei. Como representante do meu povo, estava com medo de falar ou fazer alguma coisa que não agradasse os produtores. Mas foi uma representação muito simbólica, porque estava representando todos os participantes do projeto. E preparar um café para o nosso presidente, uma pessoa que é importante para o Brasil, foi muito emocionante, um dia muito importante.”
Desafios para indígenas cafeicultores
“Um dos maiores é a valorização do trabalho de um cafeicultor indígena. Isso é muito raro de se ver. E outro é valorizar o trabalho dos pequenos produtores. Muitas empresas querem trabalhar com os grandes produtores, mas não valorizam muito os pequenos. Acessar o mercado é bem difícil, as empresas querem grandes lotes e quantidade, e isso a gente não tem condições de dar, ainda mais no território indígena. Somos pequenos cafeicultores e produzimos pequenos lotes.”
Conselho para os jovens como eu
“Coragem de enfrentar o medo. O medo sempre vai existir, em todas as ocasiões e momentos. A gente precisa enfrentar o medo e saber lidar com o mundo, porque o mundo é grande, e a gente não conhece o bastante. Tem que estar preparado para qualquer coisa que está por vir. Eu já enfrentei bastante desafios, e enfrento ainda, como liderança, como uma fundadora de uma empresa. Tem dias que a gente vai se sentir só. Mas vão ter pessoas para nos apoiar. Na maioria das vezes, acho que isso é coragem, que não pode faltar. Para os jovens indígenas, eu diria para estar preparado mentalmente e fisicamente, porque não sabemos o que pode acontecer. Estar sempre pronto e disposto.”
Sonhos
“Sonho é uma coisa muito importante para mim. Com a cafeteria que estou construindo, quero trazer mais visibilidade dentro dos territórios indígenas, não só da minha comunidade, trazer mais visibilidade para os jovens. Eu uso o café como forma de me comunicar com o mundo, e pretendo trazer mais pessoas comigo, mulheres e homens, para que a gente possa representar a nossa comunidade inteira. Meus pais, meus avós, já fizeram a parte deles, e quem precisa fazer alguma coisa agora somos nós, jovens, que são as futuras gerações.”
Para os leitores…
“Quando a gente sonha com uma coisa, o impossível se torna possível. Quando a gente acredita em nossas forças e nas forças das pessoas que a gente tem conosco. Isso é o poder do sonho. Quando você sonha muito alto, ele pode se tornar real. Eu sou a prova viva disso. E quero dizer que devemos fazer não só para a gente mesmo, mas para todos. A gente vive para todos.”
Texto originalmente publicado na edição #89 (setembro, outubro e novembro de 2025) da revista Espresso. Para saber como assinar, clique aqui.
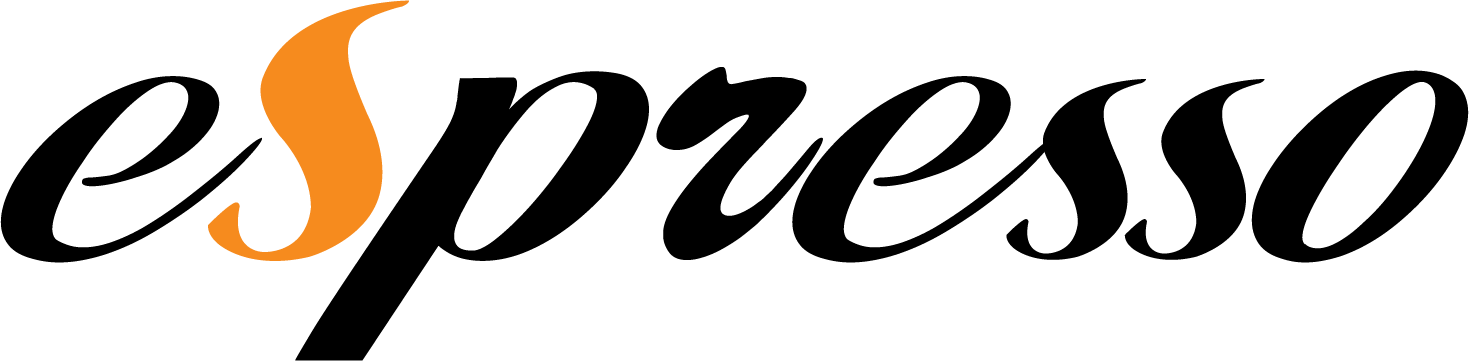










Deixe seu comentário